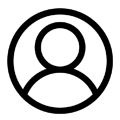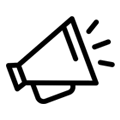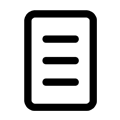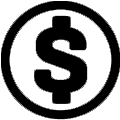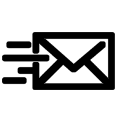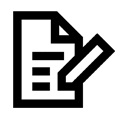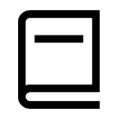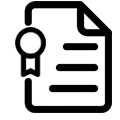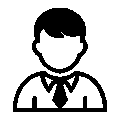05/06/2006 - Formação docente: recusar o pedagocídio
por Mario Sergio Cortella
Todas as vezes que se começa a discutir a Educação no Brasil, seus desatinos, transtornos e putrefações, um certo desalento invade variados territórios mentais e, melancolicamente, pessoas suspiram: “É, a escola pública do passado é que era boa; temos de resgatar aquela qualidade de ensino e a dedicação dos professores ”.
Resgatar! Resgatar a cidadania, resgatar a democracia, resgatar a qualidade da escola! Já ouviu ou leu isso?
Mera ilusão; o verbo supõe que algo já existiu e é preciso ir à busca e trazer de volta o que um dia já esteve presente. Ora, cidadania não é mera garantia de direitos formais, assim como democracia não se esgota em sufrágios eventuais nem qualidade da escola dever ser confundida com privilégio.
Insista-se: em uma democracia cidadã, é indispensável sempre pensar em qualidade social, o que, evidentemente, exige quantidade total; em uma sociedade na qual se deseje vivência igualitária, qualidade sem quantidade não é qualidade, é privilégio.
Ainda não tivemos cidadania, democracia e Qualidade socialmente distribuídas e eqüitativamente apropriadas e, desse modo, a nossa tarefa é construir e não resgatar. Se quisermos colocar a formação de professores como um elemento essencial nesse projeto de construção de um futuro coletivamente digno, temos de ir até algumas causas mais profundas e visitar um pouco a gênese de determinados equívocos.
Calma lá! Não é assim tão simples escolher um único culpado...
Costumo começar várias reflexões com colegas docentes, especialmente aquelas e aqueles que atuam na Educação Básica, lembrando de forma caricatural uma das frases mais proclamadas por nós: “Os alunos de hoje não são mais os mesmos”! Após algumas repetições mais teatrais da mesma exclamação, ressalto que isso é algo óbvio por completo. Digo eu: “É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos! Até aí, quem isso fala, demonstra apenas um pouco de sanidade mental”. Na seqüência, completo: “Maluco é quem, isso constatando, continua a dar aulas do mesmo modo que dava há 15 ou 20 anos”...
O desejado acontece, muitas são as risadas autocomplacentes e, em meio a esse humor voluntário, vem uma certa clareza sobre o distanciamento entre a nossa formação como docentes e o perfil e natureza dos discentes com os quais partilhamos a atividade pedagógica.
É quase imediato, então, concluir: “Está vendo! Se os professores e as professoras tivessem consciência disso, tudo seria diferente. Mas, não! Continuam, porque são descompromissados, a fazer tudo como sempre fizeram; só podia fracassar mesmo a Educação brasileira”.
Nessa hora, cautela com as conclusões fáceis e explicações superficiais! Não dá para somente psicologizar ou psicanalisar a questão, procurando na subjetividade do docente a fonte dos malefícios; isso também importa, mas, é menos substantivo do que os fatos originados da análise sociológica, política, econômica e, portanto, histórica. Do contrário, somos tentados a, rapidamente, incriminar com exclusividade os professores pelas múltiplas fontes e dimensões do fracasso escolar no Brasil, que prefiro – criando um neologismo meio torto – chamar de pedagocídio.
Nesse ofício pedagocida, é bastante interessante o papel que vem sendo exercido por alguns “achologistas” que, sem nunca terem atuado de fato na educação escolar, e apenas porque escolas freqüentaram ou freqüentam, passaram a oferecer cenários educacionais oníricos, desde que, claro, se consiga “converter” os professores e resgatar “a pureza de um trabalho que perdeu a sua alma nos últimos anos”. Nessa empreitada pouco epistêmica e bastante doxológica, confundem autores com atores e protegem um privatismo meramente mercantil.
Pior ainda, há vários intelectuais ligados à Educação que vem-se prestando à tarefa de escrever livros cujo foco central é desmoralizar e tripudiar sobre a escola (mormente a pública), sob o pretexto de fazer uma crítica salvacionista. Outro dia, ao ser perguntado em entrevista (Direcional, maio/2006) se não estaríamos vivendo o fim da escola, respondi:
“Ao contrário, até não gosto de alguns pensadores e educadores que hoje banalizam e desprezam a escola. Falam continuamente contra a escola e fazem aquilo que rejeito, que é a necropsia da escola. Eu não gosto de fazer necropsia da escola, mas de fazer biopsia da escola. A biopsia seria pegar aquilo que vivo está, examinar o que contém de problemas, para mantê-lo vivo. Já a necropsia serve apenas para identificar a causa mortis. Isso de nada resolve. O desprezo pela escola formal serve imensamente às elites. Como essas elites têm acesso a outras formas de cultura letrada, a escola de uma certa maneira é muito secundária na formação desses jovens”.
Na mesma conversa, ao ser indagado sobre as comparações entre a escola pública e a escola particular, disse algo que há muitos anos defendo: “A questão séria no nosso país não é a escola pública versus a escola particular, mas, é a escola boa versus a escola ruim. Quem entrar no circuito escola pública versus escola privada está entrando numa armadilha tonta. Escolas boas e ruins nós temos em ambos os campos. (...) O que diferencia a escola pública da particular é o tipo de aluno que a freqüenta. Inclusive porque uma parcela significativa dos professores da rede pública dá aula também na rede privada. O aluno que ingressa na escola pública é vitimado no cotidiano social por incapacidade econômica, por dificuldade de acesso a outras fontes de informação, por uma estrutura familiar depauperada. Elevar a condição desse aluno é elevar a condição da escola também”.
O povo vai à escola: uma solução problemática?
Ué – pode-se replicar –, mas no passado a escola pública não era uma referência de qualidade, superando qualquer dicotomia? E os alunos não eram igualmente pobres, mesclados com os que tinham melhores condições financeiras? Onde perdemos, então, essa qualidade?
Por incrível que pareça, nunca a perdemos, pois não existia como tal; o que aconteceu foi algo aparentemente contraditório: a escola pública, nos últimos 40 anos, tornou-se Pública! Em outras palavras, a escola passou a ter, de forma acelerada e contínua, grandes massas populacionais dentro dela e, nessa fase, nós docentes não estávamos preparados e as elites predatórias não estavam interessadas no problema.
Para nos ajudar a entender melhor a gênese da crise atual, retomo aqui, em forma de decálogo, excertos literais rearranjados (para não ter de apenas escrever de outro modo aquilo que atende à análise) de descrição por mim feita no livro A Escola e o Conhecimento (Cortez):
1. A crise da Educação tem sido inerente à vida nacional porque não atingimos ainda patamares mínimos de uma justiça social compatível com a riqueza produzida pelo país e usufruída por uma minoria. Não é, evidentemente, ”privilégio” da Educação; todos os setores sociais vivem sucessivas e contínuas crises.
2. A crise educacional tem raízes estruturais históricas e se manifesta de formas diversas em conjunturas específicas: confronto do ensino laico x ensino confessional, conteúdos e metodologias, adequação a novas ideologias, democratização do acesso, gestão democrática, educação geral x formação especial, educação de jovens e adultos, escolaridade reduzida, público x privado, baixa qualidade de ensino, movimentos corporativos carecendo de greves constantes e prolongadas, despreparo dos educadores, evasão e retenção escolar; esses e outros motivos de crise ganham agudização episódica em oportunidades variadas por todo este século em nosso país.
3. Os últimos 40 anos da história brasileira foram marcados por um fenômeno de conseqüências profundas e múltiplas: um acelerado processo de urbanização que acabou por transferir a maioria absoluta de nossa população das áreas rurais para as cidades. Há 30 anos, pouco mais de 30% dos brasileiros viviam nas cidades e, consequentemente, a demanda por serviços públicos nos setores de educação, saúde, habitação, infra-estrutura urbana etc. ficava bastante restrita.
4. Os cidadãos não-proprietários que viviam nas áreas rurais, mormente em um país predominantemente latifundiário, não tinham adequadas condições de organização para alavancar reivindicações, seja por estarem submetidos a um rígido controle político/econômico, seja pela própria distribuição populacional mais isolada e menos concentrada; ademais, do ponto de vista da produtividade do trabalho e da lucratividade do capital, a escolarização dos trabalhadores, por exemplo, não era (como ainda hoje pouco o é) um pré-requisito básico.
5. O modelo econômico implantado no país a partir de 1964 privilegiou a organização de condições para a produção capitalista industrial e, assim, o poder político central (atendendo aos interesses das elites) direcionou os investimentos públicos para grandes obras de infra-estrutura: estradas, hidrelétricas, meios de comunicação etc.; o financiamento para essa política e para a aquisição de equipamentos e tecnologias foi obtido com empréstimos no exterior (pelo Estado ou por particulares com o aval do Estado) e levou a um brutal endividamento do país, retirando, cada dia mais, os recursos necessários para investimentos nos setores sociais.
6. Ora, a aceleração da industrialização capitalista exige a concentração dos meios de produção e, claro, dos trabalhadores, gerando uma urbanização crescente e desorganizada; a ausência de uma reforma agrária efetiva, as benesses de incentivos fiscais aos grandes proprietários, a prioridade ao plantio de produtos agrícolas de colheita mecânica para exportação, a hegemonia monocultural para fabricação de álcool combustível (ocupando extensas áreas antes destinadas ao cultivo de alimentos), tudo isso e muito mais contribuiu para a expulsão da população rural em direção aos centros urbanos.
7. Ao mesmo tempo, e não por coincidência, os investimentos nos setores sociais foram reduzidos drasticamente, não acompanhando minimamente as novas necessidades urbanas decorrentes do modelo econômico; disso, dois fatos emergiram: o colapso de serviços públicos como educação e saúde (com seu inchaço despreparado) e a progressiva ocupação deles pelo setor privado da economia.
8. Na Educação, alguns dos efeitos foram desastrosos: demanda explosiva (sem um preparo suficiente da rede física), degradação do instrumental didático/pedagógico nas unidades escolares (reduzindo a eficácia da prática educativa), ingresso massivo de educadores sem formação apropriada (com queda violenta da qualidade de ensino no momento em que as camadas populares vão chegando de fato à escola), diminuição acentuada das condições salariais dos educadores (multiplicando jornadas de trabalho e prejudicando ainda mais a preparação), imposição de projeto de profissionalização discente universal e compulsória (desorganizando momentaneamente o já frágil sistema educacional existente), domínio dos setores privatistas nas instâncias normatizadoras (embaraçando a recuperação da Educação pública), centralização excessiva dos recursos orçamentários (submetendo-os ao controle político exclusivo e favorecendo a corrupção e o esperdício).
9. Fortalece-se a percepção de que, no momento em que as classes trabalhadoras passam a freqüentar mais amiúde os bancos escolares, os paradigmas pedagógicos em execução são insuficientes para dar conta plenamente desse direito social e democrático. A qualidade tem que ser tratada com a quantidade; não pode ser revigorado o antigo e discricionário dilema da quantidade x qualidade e a democratização do acesso e da permanência deve ser absorvida como um sinal de qualidade social.
10. Essa qualidade social, por sua vez, carece de uma tradução em qualidade de ensino e, assim, a formação do educador necessita abranger o elemento técnico de especialização em uma área do saber (e a capacitação contínua) e também a dimensão pedagógica da capacidade de ensinar; a discussão sobre tal dimensão envolve ainda temas mais amplos como a democratização da relação professor/aluno, a democratização da relação dos educadores entre si e com as instâncias dirigentes, a gestão democrática englobando as comunidades e, por fim, como objetivo político/social mais equânime, a democratização do saber.
E agora? O que fazer?
Não sabemos? Será que ainda temos de insistir mais? Não é tão complicado; para começo de conversa, os docentes precisam de atualização científica (a ser feita em parceria com universidades públicas e comunitárias), acesso a tecnologias de ensino/aprendizagem (com equipamentos gratuitos nas escolas e nas casas, pois elas são extensão usual do local de trabalho), educação continuada (com reuniões semanais de grupos de formação por área de conhecimento nas escolas e em agrupamentos de escolas), melhores condições salariais (para permitir dedicação mais exclusiva e por mais tempo a comunidades escolares), instalações prediais que comportem as necessidades de escolarização/lazer/saúde/ das pessoas ali presentes.
Com que dinheiro tudo isso? Ora, não se afirma que a educação escolar é fator decisivo para o desenvolvimento econômico? Se nosso país, com a miserabilidade escolar que ainda (mas não para sempre) apresenta, consegue ficar entre as 12 maiores economias do planeta, imagine se resolvermos (em emenda constitucional) aplicar paulatinamente (1 ponto percentual a mais por ano) até atingirmos 10% do PIB (em vez dos atuais 4%) até 2012? Quem perderá?
Ninguém. Será o melhor investimento financeiro que as elites poderão fazer, com retorno comprovado já em outras nações; será a melhor recompensa para a maioria de uma população que, mesmo não escolarizada a contento, já consegue patamares de sucesso econômico como nação a ponto de superar outros 180 países filiados à ONU.
Por que não? Ou, deveremos sempre oferecer razão a Darcy Ribeiro, quando, em julho de 1977, na cerimônia de abertura da Reunião Anual da SBPC, realizada naquele ano na PUC-SP, afirmou enfaticamente que “a crise da Educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”.
Resgatar! Resgatar a cidadania, resgatar a democracia, resgatar a qualidade da escola! Já ouviu ou leu isso?
Mera ilusão; o verbo supõe que algo já existiu e é preciso ir à busca e trazer de volta o que um dia já esteve presente. Ora, cidadania não é mera garantia de direitos formais, assim como democracia não se esgota em sufrágios eventuais nem qualidade da escola dever ser confundida com privilégio.
Insista-se: em uma democracia cidadã, é indispensável sempre pensar em qualidade social, o que, evidentemente, exige quantidade total; em uma sociedade na qual se deseje vivência igualitária, qualidade sem quantidade não é qualidade, é privilégio.
Ainda não tivemos cidadania, democracia e Qualidade socialmente distribuídas e eqüitativamente apropriadas e, desse modo, a nossa tarefa é construir e não resgatar. Se quisermos colocar a formação de professores como um elemento essencial nesse projeto de construção de um futuro coletivamente digno, temos de ir até algumas causas mais profundas e visitar um pouco a gênese de determinados equívocos.
O desejado acontece, muitas são as risadas autocomplacentes e, em meio a esse humor voluntário, vem uma certa clareza sobre o distanciamento entre a nossa formação como docentes e o perfil e natureza dos discentes com os quais partilhamos a atividade pedagógica.
É quase imediato, então, concluir: “Está vendo! Se os professores e as professoras tivessem consciência disso, tudo seria diferente. Mas, não! Continuam, porque são descompromissados, a fazer tudo como sempre fizeram; só podia fracassar mesmo a Educação brasileira”.
Nesse ofício pedagocida, é bastante interessante o papel que vem sendo exercido por alguns “achologistas” que, sem nunca terem atuado de fato na educação escolar, e apenas porque escolas freqüentaram ou freqüentam, passaram a oferecer cenários educacionais oníricos, desde que, claro, se consiga “converter” os professores e resgatar “a pureza de um trabalho que perdeu a sua alma nos últimos anos”. Nessa empreitada pouco epistêmica e bastante doxológica, confundem autores com atores e protegem um privatismo meramente mercantil.
Pior ainda, há vários intelectuais ligados à Educação que vem-se prestando à tarefa de escrever livros cujo foco central é desmoralizar e tripudiar sobre a escola (mormente a pública), sob o pretexto de fazer uma crítica salvacionista. Outro dia, ao ser perguntado em entrevista (Direcional, maio/2006) se não estaríamos vivendo o fim da escola, respondi:
“Ao contrário, até não gosto de alguns pensadores e educadores que hoje banalizam e desprezam a escola. Falam continuamente contra a escola e fazem aquilo que rejeito, que é a necropsia da escola. Eu não gosto de fazer necropsia da escola, mas de fazer biopsia da escola. A biopsia seria pegar aquilo que vivo está, examinar o que contém de problemas, para mantê-lo vivo. Já a necropsia serve apenas para identificar a causa mortis. Isso de nada resolve. O desprezo pela escola formal serve imensamente às elites. Como essas elites têm acesso a outras formas de cultura letrada, a escola de uma certa maneira é muito secundária na formação desses jovens”.
Na mesma conversa, ao ser indagado sobre as comparações entre a escola pública e a escola particular, disse algo que há muitos anos defendo: “A questão séria no nosso país não é a escola pública versus a escola particular, mas, é a escola boa versus a escola ruim. Quem entrar no circuito escola pública versus escola privada está entrando numa armadilha tonta. Escolas boas e ruins nós temos em ambos os campos. (...) O que diferencia a escola pública da particular é o tipo de aluno que a freqüenta. Inclusive porque uma parcela significativa dos professores da rede pública dá aula também na rede privada. O aluno que ingressa na escola pública é vitimado no cotidiano social por incapacidade econômica, por dificuldade de acesso a outras fontes de informação, por uma estrutura familiar depauperada. Elevar a condição desse aluno é elevar a condição da escola também”.
Por incrível que pareça, nunca a perdemos, pois não existia como tal; o que aconteceu foi algo aparentemente contraditório: a escola pública, nos últimos 40 anos, tornou-se Pública! Em outras palavras, a escola passou a ter, de forma acelerada e contínua, grandes massas populacionais dentro dela e, nessa fase, nós docentes não estávamos preparados e as elites predatórias não estavam interessadas no problema.
Para nos ajudar a entender melhor a gênese da crise atual, retomo aqui, em forma de decálogo, excertos literais rearranjados (para não ter de apenas escrever de outro modo aquilo que atende à análise) de descrição por mim feita no livro A Escola e o Conhecimento (Cortez):
1. A crise da Educação tem sido inerente à vida nacional porque não atingimos ainda patamares mínimos de uma justiça social compatível com a riqueza produzida pelo país e usufruída por uma minoria. Não é, evidentemente, ”privilégio” da Educação; todos os setores sociais vivem sucessivas e contínuas crises.
Com que dinheiro tudo isso? Ora, não se afirma que a educação escolar é fator decisivo para o desenvolvimento econômico? Se nosso país, com a miserabilidade escolar que ainda (mas não para sempre) apresenta, consegue ficar entre as 12 maiores economias do planeta, imagine se resolvermos (em emenda constitucional) aplicar paulatinamente (1 ponto percentual a mais por ano) até atingirmos 10% do PIB (em vez dos atuais 4%) até 2012? Quem perderá?
Ninguém. Será o melhor investimento financeiro que as elites poderão fazer, com retorno comprovado já em outras nações; será a melhor recompensa para a maioria de uma população que, mesmo não escolarizada a contento, já consegue patamares de sucesso econômico como nação a ponto de superar outros 180 países filiados à ONU.
Por que não? Ou, deveremos sempre oferecer razão a Darcy Ribeiro, quando, em julho de 1977, na cerimônia de abertura da Reunião Anual da SBPC, realizada naquele ano na PUC-SP, afirmou enfaticamente que “a crise da Educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”.